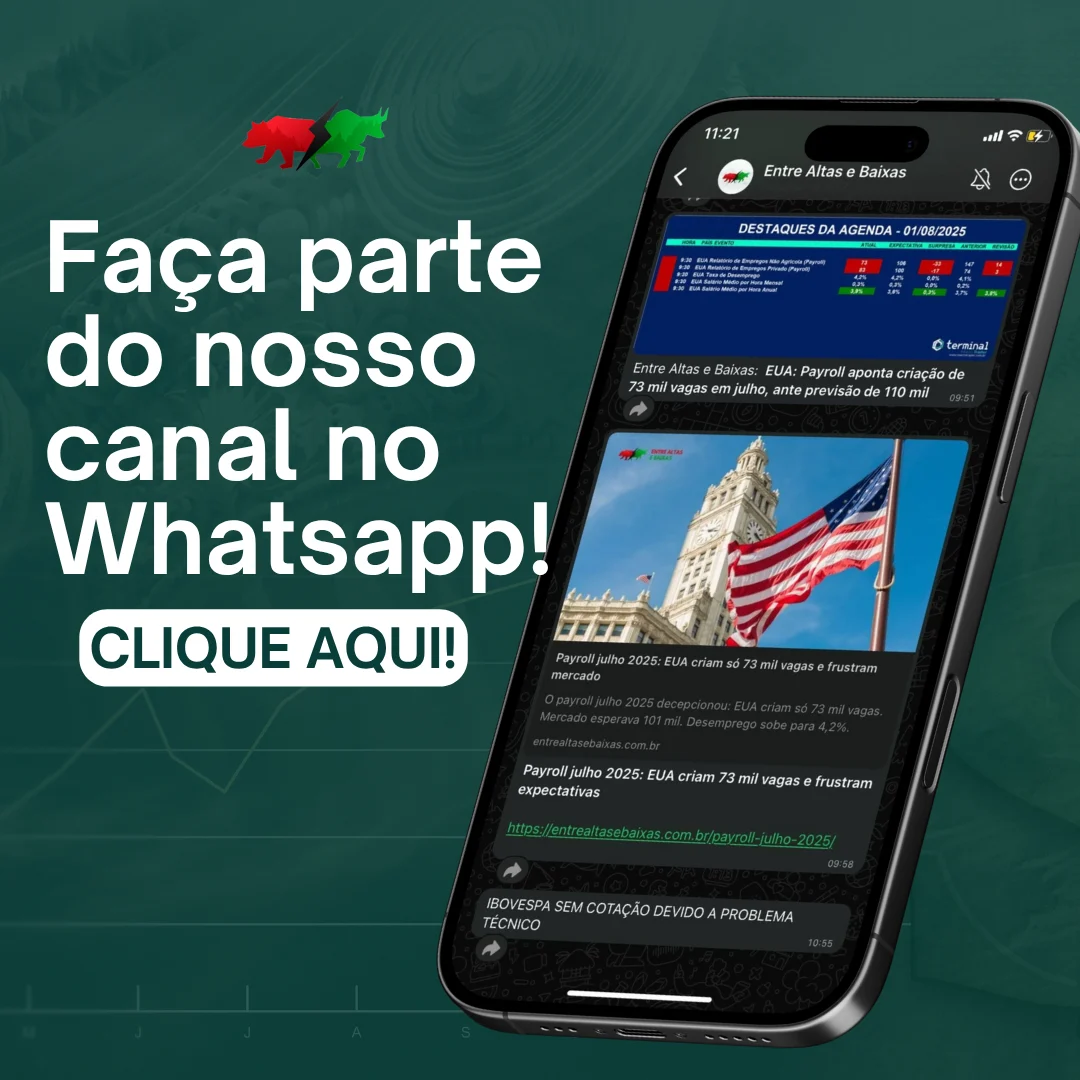Nicolás Maduro, presidente da Venezuela desde 2013, já foi alvo de uma longa série de sanções impostas pelos Estados Unidos ao longo da última década. No entanto, apesar das punições aplicadas por sucessivos governos americanos, Maduro nunca foi diretamente enquadrado pela Lei Magnitsky, um dos principais instrumentos legais utilizados por Washington para penalizar autoridades estrangeiras acusadas de corrupção ou violações graves de direitos humanos. Ainda assim, ele figura entre os nomes mais visados da política externa americana no continente sul-americano.
As sanções começaram em 2015, com Obama
O primeiro movimento formal contra Maduro partiu do governo Barack Obama, em 2015, quando foi proibida a emissão de visto ao presidente venezuelano e a diversos integrantes do seu governo. A medida impedia a entrada e o trânsito dessas autoridades em solo americano, como forma de pressionar o regime em razão de denúncias de repressão contra opositores e violações institucionais. Esse foi o ponto de partida para uma escalada mais agressiva de sanções que se intensificariam nos anos seguintes.
Trump amplia sanções e coloca Maduro na lista do Tesouro
A fase mais dura da ofensiva americana veio a partir de 2017, já sob o comando de Donald Trump, que incluiu Nicolás Maduro na lista de sanções da OFAC (Office of Foreign Assets Control), o órgão do Departamento do Tesouro responsável por administrar sanções econômicas. Com isso, todos os bens de Maduro sob jurisdição dos Estados Unidos passaram a ser congelados, e ficou proibido que qualquer empresa ou cidadão americano realizasse transações financeiras com ele. Além disso, empresas estrangeiras também ficaram sujeitas a sanções secundárias, caso fizessem negócios significativos com Maduro.
Essa inclusão foi feita por meio do programa de sanções específico para a Venezuela, que funciona de forma independente da Lei Magnitsky, mas com efeitos práticos semelhantes. A diferença está na base legal: enquanto a Lei Magnitsky tem escopo global e foco específico em direitos humanos e corrupção, o programa venezuelano tem uma estrutura própria, centrada na política externa dos EUA para o país.
Maduro, filho e aliados também foram atingidos
A ofensiva do governo Trump não se restringiu a Nicolás Maduro. Em 2018, o Departamento do Tesouro ampliou as sanções para incluir ministros, assessores e membros da Assembleia Nacional Constituinte. No ano seguinte, foi a vez de Nicolás Ernesto Maduro Guerra, filho do presidente, que também teve seus ativos bloqueados nos Estados Unidos e passou a figurar na lista de pessoas impedidas de fazer negócios com instituições americanas.
🚨 Entenda se sair do Brasil é o melhor caminho. Baixe grátis
O uso estratégico das sanções como política externa
A lógica por trás dessas punições é clara: isolar financeiramente figuras do regime de Caracas, dificultar o acesso a financiamento internacional e, com isso, aumentar o custo político e econômico da permanência de Maduro no poder. Em 2020, os EUA chegaram a acusar formalmente o presidente venezuelano de envolvimento com o narcotráfico, elevando para US$ 50 milhões a recompensa por informações que levassem à sua prisão. O Departamento de Justiça afirmou, na época, que havia provas de que 30 toneladas de cocaína estavam ligadas a Maduro e seus aliados, embora esse vínculo não tenha sido corroborado por outras entidades internacionais. Ainda assim, a retórica agressiva foi mantida.
Sanções econômicas ampliaram impacto sobre o país
Além das sanções contra indivíduos, os Estados Unidos impossibilitaram transações com estatais venezuelanas, em especial a PDVSA (Petróleos de Venezuela S.A.), desde 2017. O congelamento de ativos nos EUA e a proibição de compra de títulos de dívida desestruturaram as finanças da empresa e contribuíram diretamente para a queda drástica na produção de petróleo, principal fonte de receita da Venezuela.
No mesmo período, o governo Trump também proibiu negociações com o setor de mineração, incluindo empresas como a CVG (Corporación Venezolana de Guayana), e bloqueou instituições financeiras venezuelanas, como o Banco de Desarrollo Económico y Social de Venezuela (Bandes). Com essas ações, o país perdeu o acesso ao sistema financeiro global.
Estudos estimam que as sanções causaram um prejuízo superior a US$ 220 bilhões em receitas de petróleo entre 2017 e 2024. Esse número é frequentemente citado por economistas como um dos principais fatores da profundidade da crise venezuelana — ao lado, claro, da má gestão econômica interna.
Lei Magnitsky: o que é e por que não foi aplicada a Maduro
Criada em 2012, a Lei Magnitsky foi inicialmente voltada para punir responsáveis pela morte do advogado russo Sergei Magnitsky, que havia denunciado corrupção estatal. Em 2016, a legislação foi ampliada e transformada em um instrumento global para aplicar sanções a indivíduos de qualquer país envolvidos em corrupção ou violação de direitos humanos.
Quem é alvo da Magnitsky tem seus ativos congelados em bancos americanos, é banido do sistema financeiro dos EUA e fica impedido de entrar no país. Empresas e cidadãos americanos ficam proibidos de manter qualquer vínculo com o sancionado. Embora muitos dos efeitos sejam semelhantes ao programa venezuelano, Maduro nunca foi formalmente enquadrado nessa legislação.
A explicação está na estrutura jurídica das sanções: como a Venezuela já possui um programa específico no OFAC, os Estados Unidos optaram por seguir esse caminho, sem recorrer à base legal da Magnitsky.
Sanções continuam no governo Biden
Mesmo com a mudança de governo nos EUA, as sanções contra Maduro seguem ativas. Embora a administração Biden tenha sinalizado abertura para negociações e flexibilizações pontuais, especialmente após o início da guerra na Ucrânia e o impacto no fornecimento global de energia, o bloqueio financeiro ao presidente da Venezuela permanece.
A pressão segue sendo uma das principais ferramentas diplomáticas americanas para forçar uma abertura política na Venezuela, especialmente com foco em eleições livres e liberação de presos políticos.